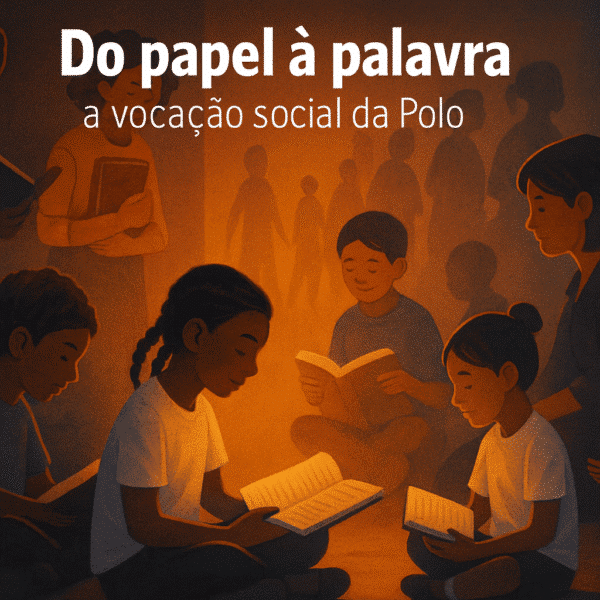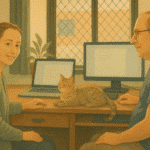A violência dirigida às masculinidades pretas no Brasil, desde o período colonial, evidencia uma herança histórica de opressão que se reinventa ao longo do tempo. Cassiano e Rocha (2024) afirmam que, durante a escravidão, instrumentos como o tronco, a gargalheira e o libambo eram utilizados para submeter corpos pretos a condições desumanas, simbolizando o controle e a brutalidade de um sistema racista profundamente enraizado. Clóvis Moura (1992) descreve detalhadamente como esses instrumentos não apenas puniam, mas também desumanizavam, transformando seres humanos em meros objetos de submissão e lucro. Essa dinâmica, embora adaptada, ainda persiste na sociedade contemporânea, manifestando-se em novas formas de opressão.
Com o fim da escravidão formal, acreditava-se que essas práticas seriam relegadas ao passado. No entanto, Fanon (2008) aponta que a desumanização permanece viva, agora manifestada em estruturas simbólicas e institucionais que continuam a marginalizar corpos pretos. Essa transição é observada na evolução das práticas de violência, que deixaram de ser exclusivamente físicas para se tornarem mais sutis e disfarçadas. O racismo recreativo, conceito formulado por Adilson Moreira (2019), exemplifica essa continuidade ao expor como a discriminação racial se disfarça de humor ou brincadeira, mantendo vivas as hierarquias raciais e naturalizando o sofrimento da população preta.
Exemplos contemporâneos, como o caso dos trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, em 2023, ilustram como a exploração racial ainda é uma realidade. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 95% desses trabalhadores eram negros e 93% nasceram na Bahia. Esse episódio não apenas reflete as desigualdades socioeconômicas que atingem de forma desproporcional a população preta, mas também destaca o desprezo pelas condições de trabalho e pela dignidade humana. Bento (2022) identifica esse fenômeno como parte do “pacto da branquitude”, um mecanismo que protege os privilégios raciais e perpetua práticas discriminatórias com impunidade.
A relação entre humor e opressão racial é central para compreender o racismo recreativo. Em muitos casos, expressões que desumanizam corpos pretos são tratadas como “brincadeiras”, ignorando o impacto profundo que causam. Essas práticas reforçam estereótipos que desvalorizam as experiências e a humanidade da população preta, criando um ciclo de desumanização que se perpetua em espaços sociais, culturais e institucionais. Moreira (2019) alerta que, ao mascarar a discriminação como algo inofensivo, o racismo recreativo dificulta o reconhecimento e o enfrentamento das estruturas raciais.
Outro aspecto alarmante é a banalização da dor histórica em espaços que deveriam promover reflexão e memória. O Casarão Senzala, em Salesópolis, que outrora foi palco de torturas contra escravizados, hoje funciona como restaurante e local de eventos (Cassiano e Rocha, 2024). Apesar de sua relevância histórica, a transformação desse local em um espaço comercial reflete uma insensibilidade às experiências de opressão e um silenciamento das memórias pretas. Fanon (2008) critica essa abordagem, chamando atenção para a urgência de criar narrativas que enfrentem de forma autêntica a história de violência racial.
No campo das relações de gênero e identidade, as masculinidades pretas enfrentam um duplo desafio: além de serem alvos de violência racial, são frequentemente estereotipadas como invulneráveis e naturalmente resistentes. Cassiano e Rocha (2024) argumentam que essa construção social desumaniza e nega às masculinidades pretas o direito à fragilidade e ao cuidado. Esse estigma não apenas perpetua a marginalização, mas também reforça dinâmicas que impedem o acolhimento dessas identidades em políticas públicas inclusivas.
Embora avanços legislativos, como a Lei nº 14.532/2023, que tipifica a injúria racial como crime de racismo, representem um progresso, a implementação dessas leis ainda enfrenta desafios. Conforme Bento (2022) e Sakamoto (2023), é essencial que o enfrentamento ao racismo não se limite à esfera legal, mas seja complementado por ações educacionais e sociais que promovam a equidade racial e desestruturem o pacto da branquitude. Gordon Allport (1954) destaca que a antilocução – o uso de piadas e expressões pejorativas – é o primeiro passo em uma escala de intolerância que pode evoluir para formas mais graves de exclusão e violência.
Conclusão
Ao examinar a continuidade das práticas de opressão contra as masculinidades pretas, percebe-se que o enfrentamento ao racismo exige um compromisso coletivo que vai além das estruturas legais. A luta por equidade racial passa pela descolonização das narrativas, pela valorização das experiências pretas e pela promoção de um ambiente onde o respeito à dignidade humana seja inegociável (Cassiano e Rocha, 2024). Como destaca Fanon (2008), apenas ao confrontarmos as estruturas opressoras poderemos construir uma sociedade verdadeiramente antirracista.
Referências:
- ALLPORT, Gordon W. The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1954.
- BENTO, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
- CASSIANO, T. F. R.; ROCHA, J. D. T. Masculinidades pretas e afrodiaspóricas no Brasil: castigo e tortura contra os negros. Revista InterAção, [S. l.], v. 15, n. 3, p. e88328, 2024. DOI: 10.5902/2357797588328.
- CASSIANO, Thiago Francysco Rodrigues. Eu-Outro: Cosmovisão Africana e Corporeidade do Homem Preto na Educação Antirracista. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2024.
- FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silva. São Paulo: Editora 34, 2008.
- MOREIRA, Adilson. Racismo Recreativo. São Paulo: Pólen Livros, 2019.
- MOURA, Clóvis. História do Negro Brasileiro. São Paulo: Editora Ática, 1992.
- SAKAMOTO, Leonardo. Ministério diz que 95% dos escravizados do vinho são negros e 93%, baianos. Portal UOL, 2023.