As mulheres da minha família, desde gerações, haviam estudado naquele colégio, o famoso Colégio Sévigné. Portanto, minhas irmãs e eu também tivemos que ser matriculadas na instituição. Era um colégio dirigido por freiras de uma ordem francesa e, assim, as alunas eram obrigadas a cumprimentá-las em francês. Às professoras, “ma soeur” – minha irmã; à Diretora, “ma Mère” – minha mãe.
O colégio não ficava muito longe de casa, coisa de quatro ou cinco quarteirões, mas era um trajeto tão cheio de coisas interessantes que nós nem sentíamos a caminhada pela rua.
Saíamos de manhã cedo e, primeiro, tínhamos que passar pela calçada do Palácio do Governo, muito imponente, todo branco, o belo Palácio Piratini. Se estivesse sendo hasteada a bandeira, teríamos que ficar em posição de sentido; ninguém podia dar um passo a mais enquanto um soldado tocava a corneta com a melodia oficial para a ocasião, notas que jamais me saíram da memória. Se, ao passarmos, a bandeira já estivesse hasteada, era melhor apertar o passo porque já estávamos atrasadas.
Mais à frente, ao lado do Palácio, estava a construção do que viria a ser a grande Catedral de Porto Alegre. Na época, somente a cripta da Catedral estava pronta, e era ali que transcorriam todos os serviços religiosos, da missa às novenas; dos batizados aos casamentos e cultos fúnebres. Entrava-se na cripta por uma rua lateral, novamente uma ladeira.
Ao longo dos próximos quarteirões, passávamos diante de locais importantes: o Museu Júlio de Castilhos, que me fascinava; a casa onde vivera o Dr. Borges de Medeiros, último caudilho gaúcho, de quem meu pai era aparentado; o cartório do tio Sinval, irmão de minha avó paterna, onde meu pai trabalhara desde rapaz até montar seu próprio negócio. Depois, vinha a emoção contida de passar diante do Colégio Anchieta, a versão masculina do nosso próprio colégio esnobe, administrado por jesuítas. Passávamos na hora em que os rapazes também estavam chegando, e isso nos fazia tremer em nossa vaidade feminina incipiente.
Atravessávamos, então, o grande Viaduto Borges de Medeiros, uma obra-prima de arquitetura, uma versão bem mais requintada do que a “nossa” escadaria para vencer o declive muito acentuado. De ambos os lados, em direções opostas, desciam amplos patamares como degraus baixos, com nichos destinados a estátuas, mas geralmente ocupados por mendigos. O viaduto se lançava sobre a Avenida Borges de Medeiros, muitos metros abaixo, onde então abrigava um sem-número de pequenas lojas.
Mais alguns passos e chegaríamos ao nosso Colégio Sévigné, porém tendo que transpor a esquina da enorme Ladeira do Liceu. Curiosamente, não havia mais nenhum Liceu por perto, mas sim uma delegacia de polícia com a carceragem voltada para o colégio, sendo que muitas vezes podíamos ouvir ruídos assustadores através das grades.
Irmã Fernanda era a porteira oficial do colégio, escolhida a dedo pela sua carranca, sua personalidade irritadiça, seu faro para detectar deslizes e erros. Ai de quem fosse notada por vestígios de batom nas maiores, narizes escorrendo nas menores, ou com a saia pregueada do uniforme amarrotada… Era um terror, pois escutar as repreensões de “ma soeur” Fernanda significava humilhação e castigo público.
Felizmente, de um modo geral, a grande quantidade de freiras que nos cercavam era muito culta e bondosa. Nós criávamos apelidos para elas, mas de uma forma carinhosa. Havia a “Teresona”, excelente em Matemática; a “Janinha”, delicada e bonita, mas muito enérgica; a “Janona”, que ensinava Latim; a “Semifusa”, professora de música, e muitas outras.
Havia também os professores leigos, como o de Inglês, apelidado de “Professor To Be”, porque não deixava que falássemos português na aula dele; a extraordinária professora de Português, Dona Augusta, que até hoje me influencia com a lembrança de seus ensinamentos; a “Tony”, professora de Educação Física, enérgica como um sargento; e a professora de História e Geografia, Dona Lina, que me fez apaixonar pelos seus relatos.
À esquerda do grande saguão do colégio estava a Capela. Era linda, o interior em estilo gótico, cenário inesquecível com suas luzes, o cheiro de incenso, o coral perfeito. A capela era domínio de um frade capelão, Frei Antônio, gordo e barbudo, com seus arrotos frequentes cheirando a alho. Éramos obrigadas a nos confessar uma vez por mês, e a penitência extra era a de ter que suportar os odores do frade na cabine fechada do confessionário.
Aquela era uma vidinha bem regrada, com muita ênfase às boas maneiras e ao requinte. Na verdade, a maioria das alunas estava ali à espera de um futuro noivo. Raras pensavam em fazer faculdade, pois ainda permanecia o conceito antigo de que mulher que estuda não casa.
Não percebíamos que estávamos sendo inexoravelmente conduzidas para um comportamento refinado, mas que nos tolhia a visão correta sobre conceitos e preconceitos da época. Ser mocinhas de boa família que estudavam num colégio francês era o nosso grande aval para a sociedade, como garantia de um bom casamento. A vida conseguiu, depois, mostrar-nos os prós e os contras daquela bem-intencionada lavagem cerebral. Cada uma de nós fez escolhas a seu próprio critério. Mesmo assim, às vezes, entre nós, irmãs, nos divertimos em dizer que somos uma espécie em extinção, aquela que tinha boas maneiras, que dizia “por favor” e “obrigada” com gentileza espontânea, que cultivava a elegância sem ser emproada, que escondia cuidadosamente dos outros as suas dificuldades emocionais ou financeiras.
A herança do Colégio Sévigné nos acompanha até hoje, por mais que a reformulemos diante de tantas alterações da vida moderna.




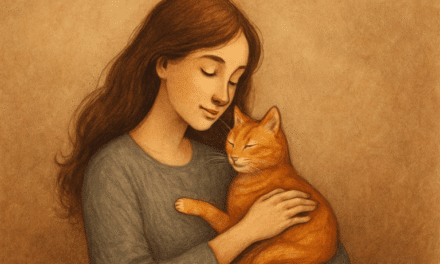

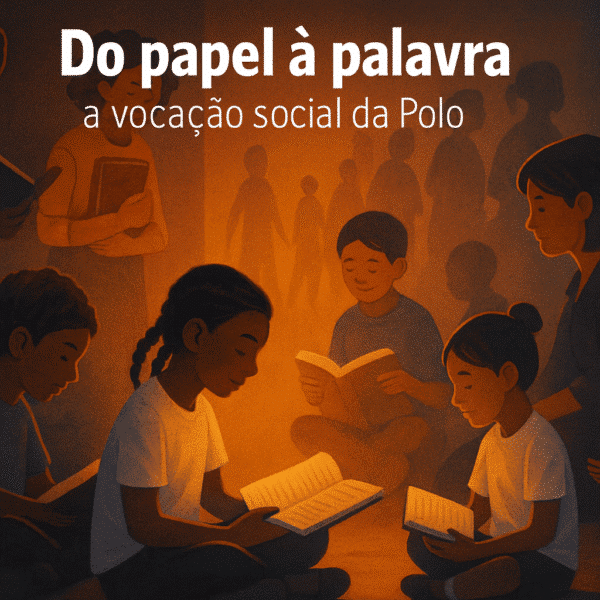











Li o texto da Vânia, que descreve uma rotina da vida da juventude dela, que nos mostra vários detalhes desse percurso casa escola, que hoje faz parte da história da cidade de Porto Alegre. Muito bom conhecer tudo isso que ela viveu nesses fragmentos de tempo, que no passado ficou que agora temos acesso através deste texto e isso se chama literatura.
Muitissimo grata Ivo Donayre!