A matinê no Cine Regina marcou minha história afetiva com a sétima arte nas décadas de 1980 e 1990. O cinema era o lugar do encontro, dos risos e da alegria naquela pequena cidade do interior de Minas Gerais, que oferecia à comunidade poucos eventos culturais — predominantemente religiosos, marcados por festas dedicadas aos santos.
Após a missa, íamos correndo para a porta estreita do Cine Regina. Desde ali, na expectativa de passar pela catraca, percorrer o corredor e adentrar o imenso salão escuro que se abria diante de nós — com cortinas de veludo vermelho cobrindo a tela gigante e ao som da tradicional trilha “Opera 312”, de Alphons Czibulka, que antecedia todos os filmes —, a magia já começava.
Nem sempre tínhamos o dinheiro para o ingresso da sessão, mas ficávamos sonhando em encontrar uma forma de entrar no cinema, numa falha de fiscalização do Seu Totonho, o porteiro. Afinal, o Cine Regina contava com oitocentos lugares — como não caber todas as crianças?, pensava, na minha doce inocência.
Assistíamos aos filmes de humor do Mazzaropi (O Jeca e a Freira, 1980) e a O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão (1977). Ficávamos a semana inteira aguardando a próxima sessão. Aos poucos, outros títulos eram anunciados, como O Pagador de Promessas (1962). Havia também as sessões noturnas, com filmes proibidos para menores, que faziam muito sucesso, como Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976). Os cartazes afixados na parede do Cine Regina nos enchiam de curiosidade e alimentavam nossa imaginação.
Já no final da década de 1990, o Cine Regina entrou num período difícil para manter a programação voltada às crianças e famílias. Ouvíamos rumores de que a chegada da televisão aos lares havia reduzido o público das salas de cinema e que, mais tarde, o acesso aos computadores em casa agravou ainda mais a situação daquele rincão mineiro.
Nesse período, aumentou a exibição de filmes mais violentos — diziam que eram de aquisição mais barata e atraíam com mais facilidade o público adulto. Assim, obras como Pixote (1980), A Fúria do Dragão (1972), Rambo (1982), Stallone Cobra (1986), Rocky: Um Lutador (1976) e vários títulos da pornochanchada tomaram conta do nosso Cine Regina, o que foi nos excluindo aos poucos da plateia.
O penúltimo filme a que assisti foi um da série Rambo, em que, ao final, Sylvester Stallone gira de uma vez e, com uma metralhadora, fuzila várias pessoas à sua frente, tomado de fúria. Nesse momento, alguns jovens sentados a poucas fileiras à minha frente se levantaram e começaram a depredar as cadeiras do cinema — vazias ao redor — num ataque de violência que nos fez sair às pressas, em desespero. A vida vai se tornando muito difícil, e já não sei se imita a arte ou se é a arte que a inspira.
Logo após o ocorrido, surgiram rumores de que a família proprietária do Cine Regina transformaria o local em estacionamento, por estar em área central, ou em um shopping, que seria mais lucrativo.
Mas pouco tempo depois o Cine Regina tomou uma decisão que me impressionou: antes de fechar em definitivo suas portas, anunciou que não encerraria sua história de projeções com uma cena de violência. Divulgou que sua última apresentação seria o recém-lançado Cinema Paradiso. Não resisti — fui lá conferir. Saí da sessão tomada pela história de Totó e pela trilha sonora, em especial o Love Theme, do compositor italiano Ennio Morricone, que me inundou do mais profundo amor pela sétima arte. Esse é o poder do cinema: nos encantar e encher de esperança, por mais dura que a vida seja — e é.
O Cine Regina marcou não só a minha história com essa decisão, mas a do próprio cinema: a sétima arte, que resiste e deixa suas pistas inspiradoras para os sobreviventes.
Essa última sessão, no apagar das luzes do Cine Regina, me lembrou Paula Freitas Santoro ao dizer que “as pessoas vivem o encontro no cinema. O cotidiano fica para a televisão.”
Nesse sentido, testemunhei o ressurgimento do cinema como espaço de encontro no século XXI, com experiências brasileiras como Ainda Estou Aqui (2024) e O Agente Secreto (2025), que comprovam que a sétima arte é necessária e avassaladora em nossas vidas.
Como em Cinema Paradiso, Salvatore Di Vita volta à sua aldeia natal e faz as pazes com o passado. Foi voltando à memória minha experiência no Cine Regina que compreendi o papel da arte cinematográfica em nossa formação humana.
Até hoje, o prédio ainda não foi transformado em shopping nem em estacionamento. Está lá, em cinzas, mas sobrevivendo com as portas fechadas — lembrando-nos de que “ainda estou aqui.”






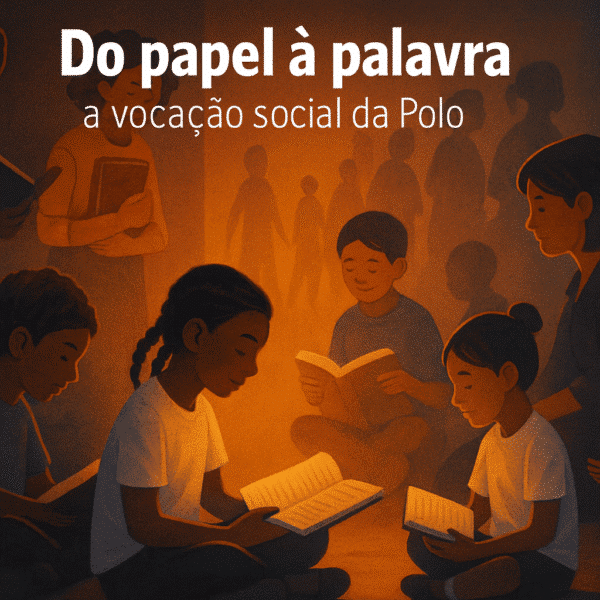











Que memória boa! Muitas reflexões sobre a economia e cultura…