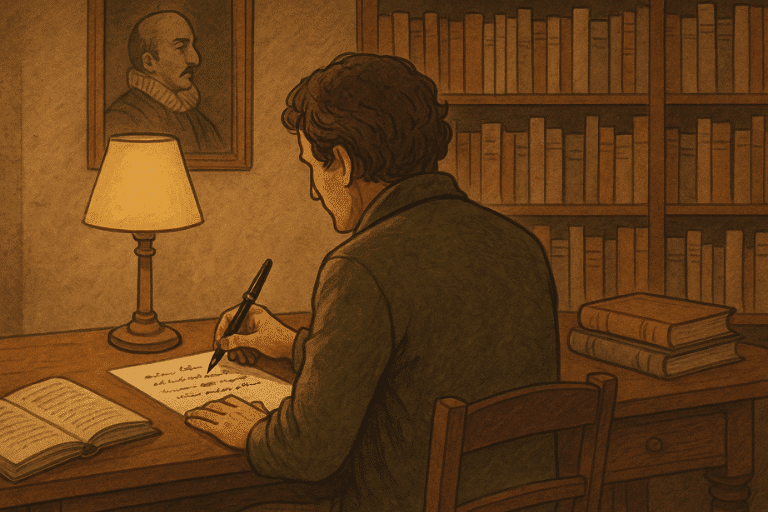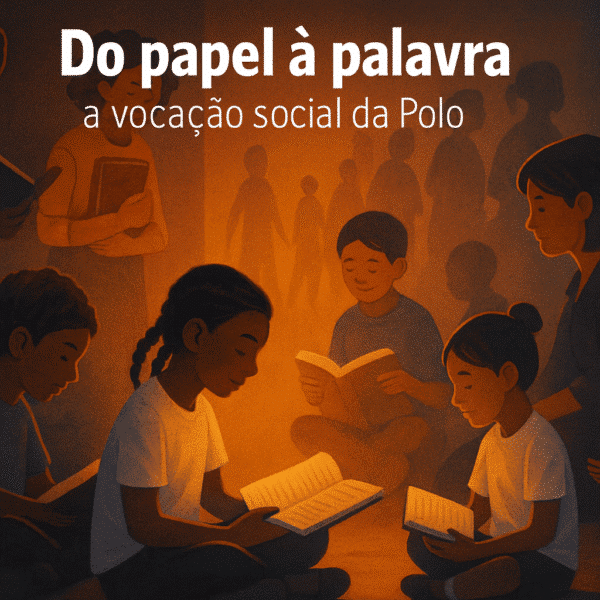Quando o francês não bastar, recorra-se ao gascão.
A liberdade de Montaigne e o exercício da escrita consciente.
Há uma passagem no livro “Os ensaios”, de Montaigne, obra que estou lendo, que me persegue como uma verdade das mais profundas sobre a escrita. Ele diz com a leveza de quem já transcendeu os purismos:
“Quando o francês não bastar, recorra-se ao gascão.”
O gascão era sua língua natal, no sudoeste da França, uma variante do occitano que se falava nas aldeias, longe das Cortes. Não era elegante, nem prestigiada, mas, era uma língua viva. Para Montaigne, viver era mais importante que brilhar. Se a língua oficial empobrece a expressão, melhor escolher aquela que nasce da boca da mãe ou do camponês. Isso deve ter a ver com o fato de que, até uns 3 anos de idade, ele morou fora do palácio, cuidado por camponeses. Melhor pecar por excesso de vida do que por falta de alma.
Essa lição, trazida do século XVI, encontra-me hoje com força redobrada. Em tempos que tanto se escreve por parecer — e tão pouco para ser —, Montaigne nos convida a recuperar a liberdade da linguagem. Isso também está relacionado com o motivo que ele escrevia: primeiro, vinha a sua própria individualidade — e a individualidade se sobre-entende como um isolamento pessoal para escrever, e essa opção pela solidão era consciente e uma opção dele. Estamos falando de um homem que ostentava o título de Senhor de Montaigne, herdado de seu pai. Além disso, exerceu o cargo de prefeito de Bordéus por dois mandatos e agora estava inserido na Corte e entre a nobreza.
Quando optou pela escrita, isolou-se de todas essas frivolidades mundanas, vida social, estar em festas e viveu dentro da sua consciência, ouvindo o seu interior sair através da sua pena, molhando a ponta na tinta, para escrever o que saía de dentro dele. Este isolacionismo foi um ato de coragem e um compromisso com a escrita.
É com este mesmo espírito que tenho praticado a escrita diariamente — dia após dia e noite após noite —, faz quase três anos. Para mim, é o exercício da consciência da escrita. Um ritual simples: escrevo toda manhã, ao acordar, e toda noite, antes de ir dormir, com uma caneta BIC azul sobre uma folha A4, completamente em branco. Nada de tela, nada de distração, apenas a mão, o traço e o pensamento. A atenção repousa sobre a ponta da caneta, e ali se firma. Cada palavra escrita é uma escolha consciente, uma lapidação do sentir. Ao inverter a lógica apressada do cotidiano, esse exercício devolve à palavra a sua densidade original. Não escrevo para fora — escrevo para dentro.
Faz pouco incorporei outro exercício que em outras épocas praticava. Depois de escrever, concluo meu exercício lendo um livro em voz alta. Declamar um livro também me aprofunda, se prestar atenção em cada palavra que estiver pronunciando. A leitura em voz alta é outro gesto de retorno. Quando leio Montaigne em voz alta, o pensamento encarna. A palavra adquire corpo, ritmo, entonação… e me escuta, tanto quanto eu a escuto. Esse exercício solitário de exclamação é também ele um modo de observação atenta que destaca a importância da experiência da leitura com a atenção e sem julgamento: a mente que fala se ouve, e o texto ganha respiração.
Montaigne talvez dissesse que, quando a escrita não basta, recorre-se à fala; e quando a fala não basta, recorre-se ao silêncio — mas jamais à falsidade. Ele escrevia como quem conversa, sem artifícios, sem ornamentos. Preferia as palavras tal como são.
Assim, desmascarava as vaidades do mundo. É essa franqueza que procuro reencontrar no ato de escrever. Não se trata de imitar Montaigne, mas de voltar a ouvir o que em nós já sabe falar — mesmo que seja no idioma mais íntimo, mas imperfeito, mais gascão.